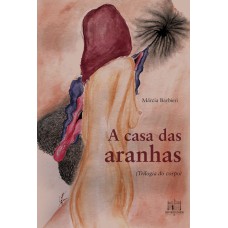Por Sérgio Tavares *
A casa das aranhas encerra a Trilogia do corpo, iniciada com A puta, de 2014, e entremeada por O enterro do lobo branco, de 2017. Romances que, embora não disponham de uma continuidade narrativa, aproximam-se por meio de chaves de enredo que lhes atribuem características correspondentes: o uso do pan-erotismo enquanto válvula de controle sobre o sagrado e o profano, a feminilidade aberta à animália e ao brutesco, a conformação das palavras num léxico corpóreo, uma carnalidade vocabular.
Neste terceiro livro, a paulista Marcia Barbieri efetiva, com mais energia, um novo dispositivo: a transcendentalidade. Ao centro da trama está uma casa cuja estrutura pulsa tal qual a compleição de um organismo sanguíneo ao mesmo tempo que se desmaterializa no espaço-tempo, processada pela abstração de sinapses cognitivas e estesia. É como se refletisse os sentimentos selvagens que dominam seus habitantes, uma legião de seres num estado entre a matéria e a fantasmagoria, que orbitam e são imantados por uma entidade lúbrica que é a mesma mulher em três fases de sua existência, cada uma ocupando simultaneamente um quarto a si atribuído.
Entre seus nomes, constam o da jovem e sensual Augustina, e o da decrépita Ester, acamada à beira da morte. Alternadamente, ainda que nessa mesma linha de excentricidade temporal, cada identidade – ou até mais de uma – se relaciona com o homem reconhecido como marido, o jardineiro Estevão, a doméstica Flamenca, a empregada Mudinha e uma figura transformada, nomeada de homem sem cabeça. Todos vivem e revivem momentos não transitórios, dominados por uma irresistível atração, uma experiência de luxúria que os envolve num circuito de promiscuidade, condenados ao desejo insaciável e à “casa que é uma prisão intransponível”.
Desse modo, o texto se arma através da formulação de um anagrama em que a consciência é a contraparte da memória. Em longos blocos textuais em formato de monólogo, cada personagem narra sua ligação com essa fêmea, construindo uma percepção sensorial que se rearranja na percepção do outro, e assim o imaginário é o resultado de impulsos que decorrem do instinto mais primitivo, descartando a racionalidade. Age-se feito bestas, intoxicadas por um cio, que mela a prosa.
Barbieri radicaliza em sua exploração do fundo subjetivo, encharcando a trama com um tratamento metafórico que, salvo dois breves trechos (talvez chatice do resenhista), é muito bem posto. Tudo vai em demasia, esgarçando sua condição original: o aspecto imagético se espessa numa plasticidade pictórica; as analogias se avolumam num planalto alegórico; o erotismo rompe o lacre do pornográfico, explicitando o que há de mais ardente no sexo e sugerindo o que há de mais grotesco.
Além do domínio técnico, uma escolha em particular triunfa em inteligência criativa. No segmento em que a personagem Mudinha, que tem o apelido por questões óbvias, assume a “voz” narrativa, sua impossibilidade de fala é suplantada por uma ótima sacada. O estilo caudal ainda guarda camadas que se referem a comentários sociais e, sim!, subtextos políticos, acusando influências literárias que vão de Hemingway a Melville, passando por Rubião e Lúcio Cardoso, e chegando até o Novo Testamento.
No capítulo final, a entrada de um personagem sui generis, que desarranja o modelo estrutural para explicar sua aparição por meio de um (pseudo)diálogo, quebra o ritmo e torna arrastado um trecho de sua passagem, contudo a força que vem da matriz psicológica, da nervura argumental, logo reassume o comando, conduzindo a um fim no qual a atmosfera indefinida entre catarse e devaneio culmina na apresentação de algo mais estranho, mais alarmante, mais contundente.
Enquanto muito se mira em livros como os da norte-americana Carmen Maria Machado, Marcia Barbieri trata da relação do corpo feminino e suas farras de uma forma original, complexa e assombrosa. A casa das aranhas é o fecho eletrizante de uma trilogia sem igual na literatura contemporânea brasileira.